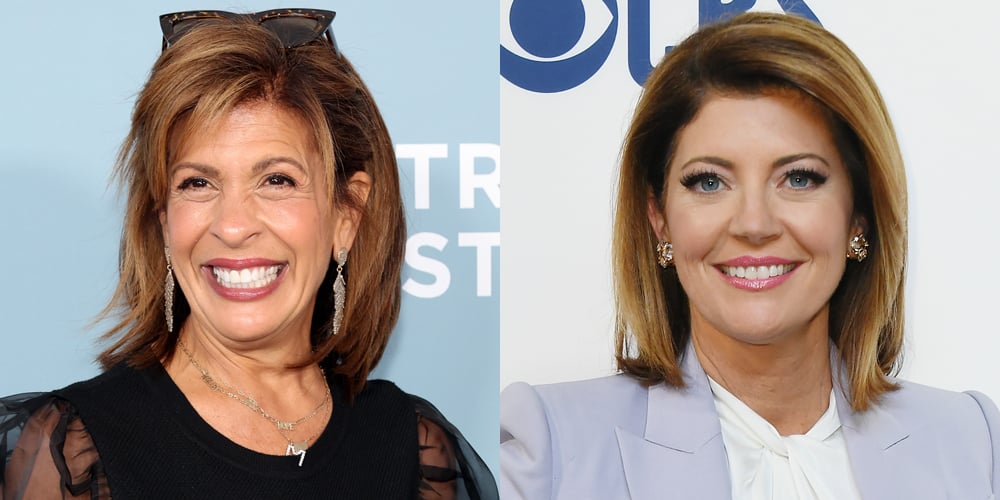O ano de 2025 chegou ao fim e com ele o primeiro quartel do século XXI. Refletindo sobre o curso dos últimos 25 anos, é difícil subestimar até que ponto o excesso militar dos Estados Unidos moldou os acontecimentos globais – o mesmo não pode ser dito do século XX.
Pouco depois do início do novo século, os EUA travaram a chamada “Guerra Global ao Terror” sob a sábia orientação do Presidente George W. Bush, que emitiu um apelo profissional às armas após os ataques de 11 de Setembro de 2001: “Temos as nossas ordens de marcha.
Segundo Bush, os EUA comprometeram-se a “travar uma guerra para salvar a civilização”, que acabou por esmagar partes do mundo e matar milhões.
Em 11 de setembro de 2001, matriculei-me no terceiro ano na Universidade de Columbia, na cidade de Nova York, local dos ataques ao World Trade Center. No entanto, como naquele outono decidi estudar na Itália, eu não estava em Nova York na época, mas em Austin, Texas, onde minha família morava na época.
Passei o dia no escritório onde trabalhei durante o verão, assistindo a replays apocalípticos de aviões chegando em uma grande tela de projetor que meus colegas montaram especialmente para esse fim.
Lá fora, as bandeiras americanas começaram a espalhar-se por todas as superfícies disponíveis, à medida que o país se autodenominava a primeira vítima do terrorismo na história do mundo – e não importa o terror literal que os EUA infligiram a outras nações durante décadas, desde o Vietname e Laos até à Nicarágua e ao Panamá.
Naquela noite, visitei meu namorado, cuja família de três pessoas estava sentada no chão da sala em meio a abundantes baldes de Kentucky Fried Chicken, que ele me descreveu como “comida reconfortante” para ajudar a aliviar a dor de uma tragédia nacional.
Basta dizer que, para inúmeros cidadãos que em breve seriam vítimas das bombas dos EUA, as encomendas massivas de comida rápida não eram um antídoto normalmente disponível.
De Austin voei para Roma via Nova Iorque, onde assisti na televisão italiana sobre o meu país “salvar a civilização” apagando a luz do dia no Afeganistão. Este exercício de matança em massa levou à Guerra do Iraque em 2003, uma nação já bem consciente deste fenómeno; Em 1996, estimava-se que meio milhão de crianças iraquianas tinham morrido devido às sanções dos EUA.
Num raro e presumivelmente involuntário momento de clareza, Bush diz: “Sabe, ligar o Iraque à guerra contra o terrorismo é uma das partes mais difíceis do meu trabalho.”
E embora o Comandante-em-Chefe Bush seja, em última análise, mais conhecido pela sua inépcia gramatical do que pela sua capacidade de incutir medo existencial nos corações dos americanos, ele está rodeado por outras criaturas mais formidáveis, como o recentemente falecido Dick Cheney – também conhecido como “o Darth Vader da administração” – e outras criaturas mais formidáveis que representam uma ameaça maior à guerra contra o Presidente Bush. Para sempre.
O prematuro vencedor do Prémio Nobel da Paz, Barack Obama, sucedeu a Bush como líder da superpotência global, que conseguiu lançar 26.172 bombas em sete países diferentes só no seu último ano.
Um desses países foi o Iémen, onde os ataques ilegais de drones de Obama foram conhecidos por matar participantes de casamentos iemenitas. Quando Donald Trump assumiu o cargo de Obama em 2017, o jornalismo de investigação baseado em Londres informou que os primeiros 100 dias da sua presidência tinham visto mais ataques dos EUA no Iémen do que nos dois anos anteriores combinados – Trump mudou as regras para os militares “autorizarem ataques sem primeiro os passarem pela burocracia de segurança da Casa Branca”.
Joe Biden, que serviu como presidente entre duas administrações Trump, distinguiu o seu tempo no cargo ao expandir o apoio tradicionalmente implacável de Washington aos massacres israelitas de palestinianos para subscrever o genocídio total na Faixa de Gaza com a ajuda de milhares de milhões de dólares em dinheiro dos contribuintes dos EUA.
Israel, que aderiu a todo o movimento da “guerra ao terror” desde a sua criação após o 11 de Setembro, continua agora a massacrar palestinianos a torto e a direito em Gaza sob o pretexto de um cessar-fogo mediado por Trump.
Entretanto, a retoma do controlo por parte de Trump sobre as operações imperiais de “contraterrorismo” é caracterizada por ainda menos contenção desta vez, à medida que o seu recém-renomeado Departamento de Guerra, quer queira quer não, explode barcos ao largo da costa da Venezuela e mata ilegalmente pessoas a bordo.
Se nos velhos tempos de Bush-Cheney os EUA se preocupavam em apresentar uma narrativa semicoerente para justificar a agressão no exterior, Trump não se preocupa em perder muito tempo a construir uma aparência de legitimidade, preferindo voar ao acaso sobre acusações absurdas de “narcoterrorismo” e de “roubo” de petróleo na Venezuela.
Agora, o poder militar dos EUA está cada vez mais habituado aos caprichos de um homem cujos bombardeamentos espontâneos e descontrolados no Irão, no Iémen, na Síria e noutros lugares imitam o seu estilo patológico de discurso de fluxo de consciência.
E ao iniciarmos o segundo quartel do século XXI, já definido pelo trágico legado do militarismo dos EUA, ninguém se consegue lembrar das malfadadas “ordens de marcha” que deram início a tudo: “Meus companheiros americanos, vamos em frente”.
As opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade do autor e não refletem a posição editorial da Al Jazeera.